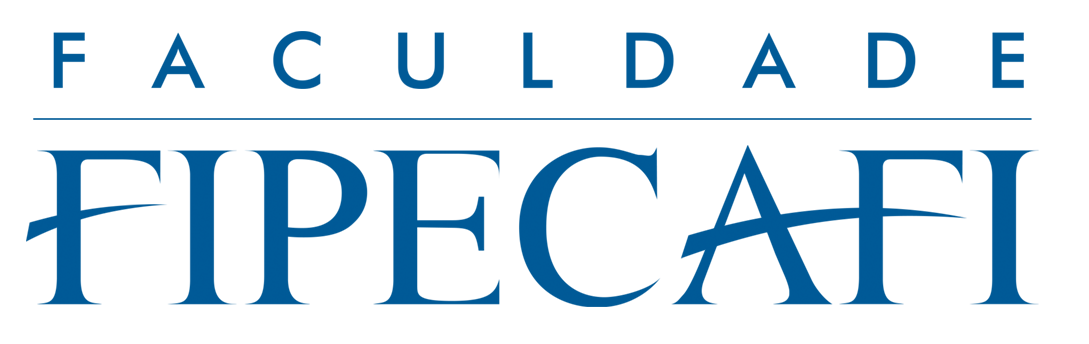Notícias
O que está por trás do movimento da "desistência silenciosa"?
Também conhecido como "quiet quitting", movimento que prega não desempenhar funções no trabalho além daquelas previstas no contrato tem se popularizado nas redes sociais e alertado empresas
Nem Beyoncé, a diva do pop estadunidense, aguenta mais. Em junho, Break My Soul, nova música da cantora, fez sucesso: ela reclama que tem trabalhado demais e não consegue dormir à noite. O tema seguiu em alta no mês seguinte, quando o TikToker Zaid Khan viralizou com um vídeo no qual explica o conceito de quiet quitting.
Em meio a imagens de dias ensolarados, áreas verdes e momentos simples do cotidiano, ele conta que conhecera recentemente o termo. “Você não está bem desistindo do seu trabalho, e sim da ideia ir além. Você ainda cumpre suas tarefas, mas não está mais concordando com a mentalidade hostil de que o trabalho tem que ser sua vida. A realidade é que não é, e seu valor como pessoa não é definido pelo seu ofício"
O vídeo de Khan tem quase 500 mil curtidas e mais de 4,5 mil comentários. Ao todo, conteúdos com a hashtag #quietquitting já acumulam mais de 340 milhões de visualizações no TikTok. A “desistência silenciosa”, como estudiosos brasileiros têm optado por chamar, consiste em um combate discreto ao excesso de entregas e cobranças, fazendo apenas aquilo para o que você foi contratado, em busca de restabelecer o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
Reclamar do trabalho não é novidade no mundo do entretenimento. Em 1973, Raul Seixas cantou que deveria estar contente porque tinha um emprego, mas achava tudo um saco. Cinco anos depois, Tim Maia engrossou o coro, pedindo para não ser amolado com esse papo de emprego, ele queria era sossego. E lá em 1967, o urso Balu, do desenho Mogli, já havia dado a letra de que o segredo para uma vida tranquila era fazer o necessário, somente o necessário; o extraordinário era demais.
Na história, sobram exemplos reais de movimentos de resistência ou enfrentamento à opressão no ambiente trabalhista. A greve mais conhecida talvez seja a de 1º de maio de 1886 em Chicago, nos Estados Unidos. Na ocasião, dezenas de milhares de trabalhadores cruzaram os braços reivindicando a redução da jornada laboral de 13 para oito horas diárias. O ato inspirou a criação do Dia do Trabalho em muitos países, incluindo o Brasil. Os EUA, ironicamente, até hoje não reconhecem a data como feriado.
Mais de 130 anos depois, contudo, esse descontentamento se manifesta de forma inédita. A “desistência silenciosa” marca a primeira vez que um fenômeno sem organização coletiva ou institucional chama tanta atenção. “Diante da história, pelo menos na era moderna, é um jeito novo de se fazer reivindicação”, avalia a socióloga Andressa da Silva Corrêa, doutora em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). “O tema virou interesse tanto de especialistas da área quanto de conversas de bar e música da Beyoncé”, completa Corrêa, que pesquisa a sociologia do trabalho.
Nos Estados Unidos, 51% dos profissionais de recursos humanos afirmam se preocupar com o quiet quitting, segundo pesquisa da Sociedade de Gerenciamento de Recursos Humanos (SHRM, na sigla em inglês) divulgada em setembro. Entre os entrevistados, 83% temem que a desistência silenciosa piore o engajamento no trabalho e 70% sentem isso em relação à produtividade dos funcionários. O problema é maior entre aqueles com 26 e 41 anos de idade: pelo menos três a cada quatro pessoas nessa faixa etária têm apresentado sinais de estar desistindo aos poucos de sua função.
Na opinião do consultor de gestão Emerson Weslei Dias, professor de Liderança e Gestão de Pessoas da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), esse cenário escancara mudanças que talvez sejam inevitáveis. “Esse colapso que está acontecendo vai ser um grande definidor do modelo de trabalho. Ainda não chegamos ao ápice, mas vamos chegar. E aí vamos precisar de um novo contrato social, pois não é possível aceitar que as pessoas trabalhem 20 horas por dia, isso é coisa da Revolução Industrial”, opina.
Entender as causas e as consequências do quiet quitting, afinal, pode ajudar a apontar caminhos para lidar com os conflitos no meio corporativo.
Vivendo para trabalhar
Se o trabalho dignifica o homem — como afirmou Max Weber, economista alemão e um dos fundadores da sociologia moderna na virada do século 20 —, a partir da década de 1970 ele parece ter voltado a se aproximar do termo que originou a nomenclatura. Tripalium, em latim, designava um instrumento de tortura romano.
“O trabalho em sua gênese fundadora surge com uma ideia de valorização negativa e pessimista”, explica o sociólogo Elizardo Scarpati Costa, professor da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), em Porto Alegre. “Somente a partir da Idade Moderna, com o movimento operário, começou a ganhar uma conotação mais positiva.”
Após a Segunda Guerra Mundial, a valorização do trabalho alcançou o ápice, especialmente nos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os chamados 30 anos gloriosos, período que foi de 1945 a 1975, foram marcados por prosperidade econômica, alta produtividade, altos salários da classe média e boom no consumo.
O fordismo, sistema de produção em massa idealizado pelo estadunidense Henry Ford, floresceu no período. “Mas até o fordismo deixava evidente que o melhor da vida não estava no trabalho”, pontua Costa.
A partir da década de 1970, a ascensão de um modelo neoliberal, que pregava maior flexibilidade na produção e mudanças na gestão, representou o declínio desse modo produtivo. Surgiram então novas formas de trabalho, que ganhou um papel central nas sociedades globais.
Tal qual a máxima de Weber, o valor dos indivíduos passou a ser atrelado às funções exercidas e às horas dedicadas a elas. “Nesse contexto, os patrões passaram a esperar que as pessoas fizessem algo além daquilo para o que foram contratadas, quase como uma relação de vassalagem e como se precisassem ser gratas pelo trabalho que têm”, analisa o sociólogo da FURG.
Somados a essa cultura de valorização do trabalho, crises econômicas e aumento do desemprego no século 21 contribuíram para desequilibrar a relação entre trabalhadores e seus empregadores. “Os patrões sabem que vão encontrar pessoas que aceitem novas condições que outrora não vigoravam, porque a situação do desemprego acrescenta níveis de precariedade laboral”, destaca Costa.
A situação se agrava no caso brasileiro, já que a taxa de desemprego chegou a 14,7% no segundo trimestre de 2021. No mesmo período deste ano, o índice recuou para 9,3%, mas representa 10,1 milhões de pessoas desocupadas. Um levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating coloca o Brasil em quinto lugar num ranking de desemprego em 40 países.
Além do estresse causado pela escassez de postos de trabalho, a cultura da hiperperformance criou o que a neurocientista Joana Coelho chama de “produtividade tóxica”. “As pessoas estão produzindo cada vez mais, sem limites, dando conta de tudo. Mas isso tem consequências, pois ninguém consegue sustentar por muito tempo”, observa Coelho, sócia da Nêmesis, que oferece treinamentos para empresas aplicando princípios de neurociência organizacional.
O principal efeito até agora foi o aumento de problemas relacionados à saúde mental causados pelo excesso de trabalho, com destaque para o burnout.
Fórmula do esgotamento
Por definição, burnout é a perda de motivação para o trabalho. Segundo o psiquiatra Wagner Farid Gattaz, professor da Universidade de São Paulo (USP) e presidente do conselho diretor do Instituto de Psiquiatria (IPq-USP), não se trata de uma doença, e sim de uma condição que aumenta o risco de uma pessoa entrar em contato com um serviço de saúde ou de desenvolver transtornos como depressão.
O burnout tem três dimensões: o esgotamento emocional, a despersonalização (quando o indivíduo se distancia das convenções sociais e do convívio) e a desilusão com a importância e a performance do próprio ofício. “Junta esses três elementos e a pessoa passa a fazer quiet quitting, se demite sem se demitir. Produz menos, tem menor envolvimento emocional com o trabalho e, com isso, queda na produtividade”, observa Gattaz.
"AS PESSOAS ESTÃO PRODUZINDO CADA VEZ MAIS, DANDO CONTA DE TUDO. MAS ISSO TEM CONSEQUÊNCIAS, POIS NINGUÉM CONSEGUE SUSTENTAR POR MUITO TEMPO”
— Joana Coelho, neurocientista e sócia da Nêmesis
Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), a síndrome atinge entre 20% e 25% da população brasileira. E um estudo feito com 38,1 mil trabalhadores de 25 empresas brasileiras pela Gattaz Health & Results — empresa liderada pelo psiquiatra da USP que oferece um programa baseado em ciência e tecnologia para promover saúde mental no meio corporativo — identificou que a incidência de casos no país aumentou 18% entre 2015 e 2022.
“Até os séculos 20 e 21, as doenças relacionadas eram mais físicas. Mas hoje o trabalho é mais intelectual e virtual, então é natural que doenças migrem do corpo para a mente”, avalia Emerson Dias, da FIPECAFI.
Mas burnout não é uma condição totalmente nova: o conceito apareceu na literatura científica pela primeira vez em 1881. “Já no século 19 havia essa preocupação de que a sociedade moderna estava causando esgotamento”, relata Gattaz.
Descrito como “neurastenia”, “fraqueza dos nervos” ou “nervosismo americano”, as causas eram atribuídas à civilização moderna: à máquina a vapor (que acelerou os processos de trabalho), aos jornais publicados todos os dias (que levavam a um excesso de informação), ao telégrafo (que não permitia que o indivíduo se desligasse do trabalho), à rápida evolução das ciências e ao aumento da atividade intelectual das mulheres. “Tirando essa última causa, hoje temos paralelos muito mais intensos”, pontua o psiquiatra
Trabalhando para viver
A pandemia de Covid-19 acrescentou ainda mais pressões a esse cenário. “As pessoas tiveram que adotar estratégias com as quais não estavam familiarizadas, recorrer a recursos e tecnologias que até então lhes eram estranhos. Isso aumenta a sensação de frustração e incompetência”, avalia o professor da USP.
O modelo de trabalho remoto, em muitos casos, também acabou com a separação entre a vida pessoal e profissional. “Vi muita gente reclamando que não tinha mais horários, porque toda hora era hora de reunião”, completa Dias. “Uma coisa é sair de casa e ter horários bem demarcados. Outra é estar no mundo virtual, que pode ser acessado a qualquer momento.”
Mas a crise mais escancarada pela pandemia tem um fundo existencial, na opinião da socióloga da UFRGS. Se o home office acabou com as barreiras entre casa e trabalho, também fez as pessoas perceberem que era possível viver e trabalhar de outra forma.
“Esses elementos de experimentar viver de outro jeito e a ideia da urgência da vida desnaturalizaram o modelo de trabalho que exigia ritmos exaustivos”, analisa Andressa da Silva Corrêa. “E então essas críticas, que já estavam no nosso universo moral, pois é óbvio que as pessoas querem ter mais saúde e equilíbrio, encontraram um solo fértil para florescer e se estabelecer.”
Os resultados começaram a aparecer no início de 2021, com os primeiros sinais de restabelecimento da velha rotina, ainda que a pandemia estivesse longe de terminar. Nos Estados Unidos, o ano terminou com 47 milhões trabalhadores pedindo a conta, em um movimento apelidado de “a grande demissão”.
De acordo com levantamento do Pew Research Center divulgado em março de 2022, as principais razões para os pedidos de demissão foram baixos salários e falta de benefícios, oportunidades, flexibilidade e respeito no ambiente corporativo.
Segundo a edição de 2022 do relatório State of the Global Workplace, realizado pela Gallup, somente 21% dos trabalhadores estão engajados em seus cargos. “Vivendo pelo fim de semana”, “olhando os ponteiros do relógio” e “trabalho é só um holerite” são os mantras para a maioria dos trabalhadores no mundo, aponta o estudo.
A insatisfação é ainda maior entre os jovens de 18 a 26 anos, os da geração Z, segundo o Edelman Trust Barometer de 2022, levantamento feito com 36 mil pessoas divulgado em junho. Eles são os que mais se preocupam com segurança, saúde, finanças e conexões, e questionam o modelo atual de trabalho.
A ponto de um relatório de 2021 elaborado pelo Fórum Econômico Mundial apontar a “desilusão da juventude” como o oitavo risco entre os dez principais perigos imediatos. O documento chama atenção para a deterioração da saúde mental dos jovens desde o início da pandemia, deixando-os mais vulneráveis para depressão, ansiedade e frustração.
Emprego dos sonhos
Não é por acaso que o quiet quitting tenha se popularizado principalmente a partir de uma publicação do TikTok, a rede social favorita da geração Z. Mas especialistas questionam o potencial do movimento de promover mudanças reais tanto na relação das pessoas com o trabalho quanto na cultura de hiperperformance adotada pelo mercado. “Tende a fazer pressão? Sim. Mas até que ponto essa pressão vai ser efetiva não sabemos”, aponta a pesquisadora da UFRGS.
A VANTAGEM DE CATALOGAR UM FENÔMENO SOCIAL [QUIET QUITTING] É QUE CONSEGUIMOS DELIMITAR O CONCEITO E PRODUZIR MAIS ESTUDOS PARA ENTENDER SUAS CAUSAS”
— Emerson Weslei Dias, professor de Liderança e Gestão do FIPECAFI
Na opinião da neurocientista Joana Coelho, o movimento sinaliza a busca por equilíbrio entre vida e trabalho, o que é positivo tanto para funcionários quanto para empregadores. “O que a gente vê hoje na neurociência é que há benefícios em alcançar esse equilíbrio”, pontua.
Ela destaca que tem observado cada vez mais companhias discutindo tópicos relacionados à saúde mental. “Já vemos empresas testando jornadas de quatro dias ou buscando novos modelos de trabalho”, relata. “Mas é preciso entender que falar em equilíbrio de vida é algo dinâmico, e a percepção sobre isso é subjetiva. O principal ponto é existir espaço para diálogo, as empresas precisam estar abertas para entender seus colaboradores."
A longo prazo, porém, o quiet quitting pode acabar tendo efeitos tão prejudiciais quanto o burnout. “Dependendo do ambiente, ele é uma forma de proteção contra o esgotamento, é como se o indivíduo criasse um limite para não chegar ao outro lado”, explica a neurocientista. “Mas pode trazer estresse, porque é difícil se sentir todo o tempo lutando contra os fatores [que causam a sobrecarga], você ativa o sistema defensivo constantemente.”
Do ponto de vista corporativo, os chefes se tornam ainda mais relevantes, opina o professor da FIPECAFI. “A liderança não pode pensar só no curto prazo. Tem que perceber que, se uma pessoa entrega três vezes mais do que o esperado, mas trabalha 16 horas por dia, isso vai se tornar um problema”, alerta Dias. Segundo o especialista, é preciso encontrar equilíbrio entre uma cultura organizacional que saiba exigir dos trabalhadores sem sobrecarregá-los.
Já Elizardo Scarpati Costa, da FURG, não considera que a resistência individual e silenciosa tenha a força de movimentos sociais organizados, a exemplo das greves. Mas, diante da desvalorização e do enfraquecimento de instituições como sindicatos, as pessoas foram perdendo a possibilidade de recorrer na esfera coletiva. “O desgaste dessas relações laborais e contratuais obriga as pessoas a pedirem demissão, ou os patrões encontram mecanismos e ferramentas para demitirem sem descumprir acordos, alimentando uma roda de precariedade laboral”, aponta.
No caso brasileiro, essa roda é mais complexa. “Ainda temos questões de cunho aristocrático e colonial, que vão contra até a lógica neoliberal de meritocracia. [O sucesso] da resistência, ainda que seja individual, também depende de quem está fazendo”, conclui.
Ao que tudo indica, a desistência silenciosa ainda vai render. “A vantagem de catalogar um fenômeno social é que conseguimos delimitar melhor o conceito e produzir mais estudos para entender suas causas”, explica o especialista da FIPECAFI. Aliar diferentes áreas do conhecimento parece ser o caminho ideal para compreender não só o que nos trouxe até aqui, mas como desejamos trabalhar — hoje e no futuro.
Fonte: Revista Galileu
Link